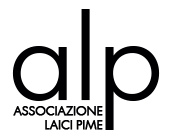No dia 5 de outubro na Arquidiocese de Manaus celebramos o jubileu dos Povos Originários. Os participantes, pertencentes a diferentes povos, peregrinaram das próprias comunidades de periferia até o Parque do Mindu, lugar escolhido para celebrar este momento de fé e cultura que os reuniu ao redor da nossa Cardeal Arcebispo Dom Leonardo Steiner.
“A resposta somos nós”. Essa foi a frase escolhida pelos Povos Originários em virtude do seu Jubileu realizado no Parque do Mindú, em Manaus. Aqueles que conhecem a capital amazonense sabem o imenso desafio urbano que a cidade enfrenta. Os processos de ocupação do território favoreceram um distanciamento na relação dos habitantes com a natureza.
No dia em que a Arquidiocese de Manaus celebrava o Jubileu dos Povos Originários uma forte chuva atingiu a capital amazonense. É poético pensar que, durante a fala do cardeal Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus, sobre a necessidade de criarmos uma nova relação com a natureza, a precipitação tenha iniciada. Entretanto, é provável que este acontecimento esteja ligado as mudanças climáticas e por isso pensaremos esse dia a partir do que foi vivido no Parque do Mindú.
O Parque do Mindú é uma das poucas áreas florestais no meio da cidade com ampla distribuição de fauna e flora. É um grande exemplo de desarmonia e recuperação, com áreas de regeneração anteriormente degradadas por desmatamento. Ele é cortado por um dos maiores igarapés da cidade que se encontra poluído em toda sua extensão, mas também com a possibilidade de nascentes ainda preservadas. O espaço é um dos últimos refúgios de um pequeno macaco ameaçado de extinção, o Sauim-de-coleira (Saguinus bicolor).
Este é um pequeno recorte. Nele recordamos o rompimento do elo estabelecido entre Deus e suas criaturas apresentado no livro de Gênesis (9,12-17). Por isso, vivenciarmos um jubileu neste parque é profundamente profético e comprometedor. É um convite a percebermos nossa relação com toda a criação já que, nas palavras do cardeal, “parece que a sociedade está surda. Parece que os corações estão fechados e não percebem como todas as criaturas, são importantes para podermos viver, conviver”.
O local do encontro era um auditório ao ar livre. Havia uma cobertura que nos protegeu da chuva forte, mas que demonstrou sua precariedade com inúmeros vazamentos. Nas laterais abertas, nos víamos abraçados pela floresta. E quando a chuva veio, acompanhada de forte ventania, nos deslocou para ocupar apenas um lado do auditório. Ali não houve pânico ou medo. Estávamos ligados, nos sentíamos parte.
Enquanto isso, uma outra dinâmica se apresentava nas avenidas do centro histórico da cidade de Manaus, pavimentadas acima do leito de igarapés, estavam sendo fortemente inundadas devido à grande chuva. Nos vídeos que circularam as redes sociais, era possível ver as águas ocuparem o espaço onde antes eram cursos naturais dos igarapés. Esse fato revela um problema estrutural, mas também um apagamento, uma aversão às nossas raízes mais profundas: a cidade das águas cresceu, suprimiu, poluiu seus cursos d’água.
Essa breve exposição é para que, ao pensarmos em respostas às mudanças climáticas, rompamos com a mentalidade de dominação da sociedade. Dessa maneira, recordamos o convite do arcebispo de “que Deus nos ajude e que vocês (povos indígenas) nos ajudem a sermos cada vez mais motivo de esperança, motivo de transformação e não de destruição”. É um pedido à conversão ecológica, paradigmático, guiado pela esperança que não decepciona.
Num contexto tão complexo que vivemos, dizer que a resposta são os povos originários é assumir um modo de ver mundo que foge à dinâmicas engessadas e perpetuadas ao longo da construção das sociedades. É retomar uma vivência harmoniosa, atenciosa e cuidadosa.
Harmoniosa porque respeita o tempo e o espaço das criaturas. Atenciosa porque percebe e aceita as diferenças de cada indivíduo. E cuidadosa, porque reconhece a fragilidade, a necessidade e aprecia sem querer dominar para benefício próprio, sem destruir a dignidade e a vida em todas as suas manifestações.
Embora a Amazônia tenha ganhado destaque no cenário mundial, muitas das narrativas não contemplam os povos que habitam o território. Essa forma de olhar a Amazônia de cima, apenas como um grande tapete verde, excluiu, negligência e marginaliza sua população. Isso se revela ao ouvirmos os clamores e apelos dos irmãos indígenas, quilombolas e ribeirinhos que estiveram no Jubileu.
Pensar uma nova narrativa sobre as Amazônias exigem que abandonemos os pressupostos incutidos ao longo do processo educacional e humano. Essa exigência significa abrir mão das nossas seguranças para que haja uma nova forma de relacionamento com a natureza. E os irmãos originários demonstram exatamente como isso pode acontecer, num processo não linear, mas circular de passagem dos aprendizados.
Por tanto, é fundamental que os processos de escuta dos povos sejam constantemente retomados. Que seus ensinamentos ancestrais sejam levados em consideração em todas as nossas tentativas de reestabelecer as relações com a natureza. Não podemos permitir que sejamos dominados pela lógica utilitarista, nem pensar uma organização socioambiental que desconsidere aqueles que historicamente transformaram a forma de conviver com a floresta e seus recursos.
Emmanuel Grieco N. Barroso,
Jovem manauara que atua na Arquidiocese de Manaus.
Acadêmico de Jornalismo, Universidade Federal do Amazonas (Ufam)